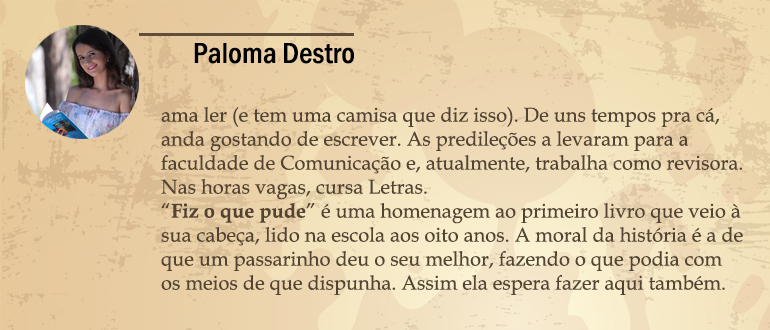O anti-herói em nós
Ao me pegar torcendo pelo errado e pela quebra de ética ao assistir a um episódio de “Família Soprano”, foi grande a minha surpresa ao questionar meus próprios valores. No episódio em questão, a psiquiatra de Tony Soprano é assaltada e estuprada e quase conta para seu paciente mafioso o que aconteceu – o que alimentaria a certeza de que Tony daria um jeito no criminoso, que foi solto, segundo a polícia, por erros de preenchimento de documentação. Tony pergunta se ela, que está com o rosto e a perna machucados (justificados como consequência de um acidente de carro), tem algo para lhe dizer. O episódio termina com um não repleto de angústia e dor da psiquiatra. É isso. Ela fala não. A tela fica preta. Os créditos aparecem. Não pude continuar assistindo no dia para saber o desenrolar. Ficou o sofrimento de “Por que ela não contou”, “Tony daria um jeito”, “Meu Deus, que série é essa”, “#Morri”.
Passando pelo que os estudiosos chamam de a Terceira Era de Ouro da Televisão Norte-americana, as séries de TV dos brothers têm conquistado legiões de fãs pelo mundo. É fato que as narrativas vêm ultrapassando barreiras a cada novo produto lançado, que a tecnologia abrilhantou tudo, que o que temos hoje é mais do que um gancho ao fim de cada episódio. Mas a profundidade de personagens e conflitos é tanta que está deixando nossa amiga e mãe da narrativa seriada, Sherazade, um pouco envergonhada das suas simples tramoias para se manter viva durante as mil e uma noites. Além disso, muita gente politicamente correta fica de cabelo em pé com os favoritos da audiência: os anti-heróis.
São inúmeros exemplos. O Tony, mencionado no início, é um dos reis. O integrante da máfia italiana de New Jersey dá raiva, mas, sobretudo, gera uma simpatia que não há como negar. Quem não torce por ele, gente? Quem não adora seus amigos mafiosos? Quem não fica com raiva do FBI, que grampeou a casa do nosso amigo? E olha que Família Soprano terminou em 2007 e diversas pessoas, assim como eu, estão se deliciando agora com um dos expoentes da nova ficção seriada televisiva.
E o sem-coração Dr. Gregory House, de “Dr. House”, médico brilhante, mas que detesta pacientes – um paradoxo de jaleco branco? Como não amá-lo? Como não querer que ele existisse na vida real para auxiliar os enigmas da medicina? E o que dizer de Heisenberg, ops, digo, Walter White, que, de um professor de Química diagnosticado com câncer no pulmão, tornou-se o maior produtor e traficante de metanfetamina dos EUA? Quem não torcia por ele em “Breaking Bad” e tinha raiva da sua mulher, Skyler, que, sim, era uma espécie de voz da consciência do Walt (“Não faça isso, você tem família, você é um monstro”, blá blá blá)? No fim, o professor, que justificava os próprios atos como de proteção da família para quando morresse (já que deixaria uns milhões para ninguém passar necessidade e seus filhos poderem estudar), acabou dizendo que fez o que fez por ele. O submundo do crime o fez ficar vivo como nunca, mesmo com a morte iminente. Foi de arrepiar.
Mas por que amamos os Tonys, os Houses, os Whites? Somos totalmente bad guys também? Ah não, por favor! Até porque nem eles, os personagens, são totalmente maus – existem nuances de algo bom em todos. Prefiro ficar com o que Edgar Morin, filósofo, pesquisador e antropólogo chamou, ao estudar as estrelas de cinema e os produtos comunicacionais, de projeção e identificação. A projeção, falando simploriamente, é quando você vê algo na tela que o satisfaz internamente, mas que, na vida real, você não faria (tipo eu torcendo para a psiquiatra quebrar qualquer código de ética entre médico-paciente, só para obter justiça). Já a identificação é, como o nome já diz, quando você se identifica com o que é narrado, com os dramas, com as alegrias.
Quem quer preservar a aura da santidade pode dizer que está apenas se projetando na narrativa – o que é legítimo. Mas será que não tem uma pitada de identificação nesse processo todo, não? Afinal, quem foi que disse que tudo em nossa vida, em nossa identidade, é preto no branco? Não existe uma escala de cor? Será que somos tão monótonos assim? Será que essas séries de ouro só servem para o entretenimento?
“Claro, são só ficção”. Se assim fossem, por que eu teria me importado a ponto de escrever este texto? Por que zilhões de comentários, conversas e fãs surgem a cada dia em torno das séries citadas e de outras mais?
Se, mesmo com esse movimento da narrativa seriada, muitos insistirem em tratá-la apenas como mera ficção, posso dizer, sem medo, que tem muita ficção aí melhor do que a realidade. Minha anti-heroína íntima que o diga.